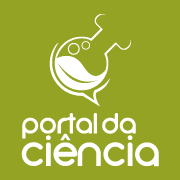*Por Danilo dos Santos, Everaldo Isolino, Ingrid Simões e João Santana*
Ouça o resumo da reportagem:
O termo “biopirataria” se refere à exploração de recursos biológicos e de conhecimentos tradicionais associados sem o consentimento das comunidades de origem e sem a repartição justa dos benefícios gerados. A prática, embora não seja tipificada diretamente no Código Penal brasileiro, envolve a retirada de plantas, animais ou saberes das florestas e povos da Amazônia para fins comerciais, muitas vezes em escalas industriais, sem qualquer retorno às populações locais.
Na cidade de Manaus, capital do Amazonas, o empreendedor Jorge Campelo, fundador da loja Natus da Amazônia, vive diariamente os efeitos indiretos desse fenômeno. Junto com sua esposa, Ana Campelo, Jorge comercializa chás e preparos naturais com base nos saberes tradicionais herdados de sua família.
“O uso dos chás medicinais na minha família começou muito antes de qualquer ideia de comércio. Minha avó aprendeu com os mais velhos da comunidade, e passou esse conhecimento pros filhos que passaram pros filhos deles”, conta.
Jorge relata que a venda dos produtos surgiu como alternativa econômica diante do crescente interesse de consumidores externos. “A ideia de empreender com isso veio depois, quando percebi que muita gente de fora queria conhecer esses saberes, mas não sabia como acessar de forma respeitosa e verdadeira”, diz. A loja tornou-se, então, uma forma de sustento para a família, mas também uma ferramenta de valorização da tradição.
O problema, segundo ele, ocorre quando grandes empresas se apropriam desses saberes. “É uma ferida aberta pra nós. Quando estrangeiros vêm aqui, pegam um conhecimento que é nosso, sem permissão, sem pagar nada, e ainda usam como se tivessem descoberto, isso é um roubo”, afirma Campelo.
Casos como o de Jorge Campelo ilustram a preocupação levantada por estudiosos. Rogério Fonseca, doutor em Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre, explica que a legislação ambiental brasileira ainda carece de especificidade quanto à biopirataria. “Apesar que tem propostas de lei, que têm emendas, medidas provisórias, essa tipificação ‘biopirataria’ não existe”, afirma. Para Fonseca, o uso indevido dos recursos naturais e dos conhecimentos locais pode impactar comunidades inteiras. “Se a gente não dá a devida atenção para estas populações, pode afetar, sim, de alguma forma, a vida dessas pessoas”, diz.

Além dos pequenos empreendedores, povos indígenas também têm buscado formas de proteger e valorizar seus conhecimentos. Em Manaus, o Centro de Medicina Indígena Bahserikowi’i atua como referência na medicina tradicional. Fundado pelo antropólogo João Paulo Lima Barreto, do povo Tukano, o centro oferece atendimentos com Kumuã, ou pajés, de diversas etnias do Alto Rio Negro. A iniciativa nasceu após um episódio envolvendo a sobrinha de Barreto, que sofreu uma mordida de cobra e teve o tratamento tradicional indígena recusado por médicos.
“O nosso propósito é explicar que o conhecimento do meu povo pode ser mais que um simples tratamento ao combate de doenças”, afirma João Paulo Barreto. Para ele, esse saber ancestral é uma forma de tecnologia. “É uma tecnologia de cuidado em saúde e cura, além de ser uma tecnologia de construção de pessoa, comunicação e relações cosmopolíticas”, explica.
Atualmente, o centro realiza atendimentos inclusive a turistas, e já contabiliza mais de 3 mil tratamentos. Barreto reforça que a tradição é também um instrumento de fortalecimento cultural. “Somos um centro de referência também para outros povos indígenas, para que possam se espelhar e assim criar os seus próprios espaços de cuidado em saúde e cura”.
Para especialistas, o conhecimento tradicional é protegido por legislações específicas, como a de acesso ao patrimônio genético e aos saberes associados, mas ainda há lacunas na fiscalização e reconhecimento jurídico. “Esse conhecimento, hoje, está blindado por legislação, e podemos pedir indenização para essas comunidades por uso indevido. Isso já não é algo abstrato, é algo lúcido”, afirma Rogério Fonseca.
A biopirataria não se limita ao contrabando de plantas, sementes ou animais da biodiversidade. Ela também envolve, de forma preocupante, o roubo do conhecimento tradicional e das práticas culturais dos povos originários. O próprio termo “pirataria” já remete à apropriação e uso de algo que não pertence a quem o utiliza, neste caso, os recursos biológicos e os saberes milenares associados a eles.
O amplo conhecimento dos povos indígenas sobre o manejo dos recursos naturais tem sido explorado, muitas vezes sem autorização, reconhecimento ou compensação. Essa exploração se estende também aos produtos culturais. O biólogo Welton Oda observa que há uma mudança de função nos objetos produzidos por populações indígenas, influenciada pela demanda do mercado. “As biojoias e as cestarias, por exemplo. Hoje você tem a classe média, classe média alta, a grande burguesia comprando essas peças, e os indígenas já produzem para essa finalidade. Muitos desses cestos já não são cestos cargueiros de uso, são cestos de decoração. Perde-se a finalidade, altera-se a finalidade”, afirma. A relação, antes voltada para o uso de tarefas do cotidiano, passa a ser moldada pela estética e comércio.

Além disso, o combate à biopirataria enfrenta obstáculos em sua estrutura. Oda destaca a fragilidade dos órgãos ambientais após desmontes institucionais. “No passado recente, a gente teve um governo que desmontou o Instituto Chico Mendes, o Ibama, o Ministério do Meio Ambiente. Grandes grupos econômicos com representação no Congresso legislam para afrouxar as regras, para a boiada passar.” Segundo ele, a fiscalização é falha, especialmente em aeroportos e portos, o que facilita a saída saída ilegal de recursos.
Oda também ressalta que o problema está atrelado à falta de investimento em ciência e tecnologia. “Estamos num país que investe muito pouco em ciência e tecnologia. Temos uma quantidade reduzida de pesquisadores e de recursos destinados à pesquisa científica. Perdemos espaço muito mais por falta de investimento do que por causa da biopirataria”, conclui.
A legislação e o patrimônio nacional
Segundo o advogado especialista em direito ambiental Antônio Norte, a biopirataria continua sendo uma das maiores ameaças à soberania ambiental e econômica da Amazônia, ele explica que a prática consiste na exploração ilegal ou não autorizada dos recursos biológicos e genéticos da floresta, muitas vezes aliada à apropriação de conhecimentos tradicionais de povos indígenas, quilombolas e comunidades ribeirinhas. “É um patrimônio coletivo que vem sendo tomado sem consentimento e sem nenhuma compensação justa”, afirma.
Veja alguns casos emblemáticos da biopirataria na Amazônia aqui:
Antônio lembra que o primeiro grande caso de biopirataria na Amazônia aconteceu ainda no século XIX, quando o inglês Henry Wickham levou clandestinamente sementes da seringueira para a Malásia. “Ele se passou por comerciante amigo dos locais e levou as sementes escondidas em cestos cobertos por folhas de bananeira. O resultado foi o colapso da economia da borracha no Amazonas e no Pará, que na época viviam um auge comparável ao padrão de vida europeu”, relembra.

Mesmo com o passar dos anos, o problema ainda persiste. O advogado cita o caso de dois alemães presos em 2006 no aeroporto de Manaus com espécies amazônicas de peixes, “Eles foram condenados, mas a pena foi convertida em multa equivalente a 50 salários mínimos, isso mostra como a nossa legislação ainda é extremamente branda”, critica. Segundo ele, a Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998) ainda prevê penas muito baixas, facilmente substituídas por multas ou serviços comunitários, o que não tem nenhum efeito pedagógico.
Além de endurecer as penas, é necessário investir na fiscalização ambiental e aduaneira, fortalecer órgãos como o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e o Instituto Chico Mendes, e garantir que universidades e empresas atuem com ética e devolutivas às comunidades. “Tudo isso mostra como estamos vulneráveis. Precisamos proteger nossos recursos, nossa cultura e nossos direitos com mais rigor e responsabilidade”, afirma. Enquanto as disputas legais e políticas sobre o tema seguem, empreendedores como Jorge Campelo e lideranças como João Paulo Barreto continuam na linha de frente da valorização de um saber que, há gerações, conecta as pessoas à floresta.
*Reportagem produzida na disciplina de Jornalismo Ambiental (sob a supervisão do prof. Me. Gabriel Ferreira)
Foto: Danilo dos Santos